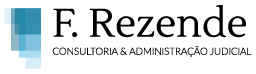RECUPERAÇÃO JUDICIAL, O VOLUNTARISMO JUDICIAL E O STJ
LUCIANA BENASSI GOMES CARVALHO
12/05/2018
https://emporiododireito.com.br/leitura/recuperacao-judicial-o-voluntarismo-judicial-e-o-stj
No último dia 10.04.2018, o STJ, através da 4ª Turma, conheceu de tormentosa questão atinente à contagem dos prazos na recuperação judicial.
A partir da entrada em vigor do CPC/15, em decorrência da previsão da contagem dos prazos processuais em dias úteis (art. 219, do CPC), iniciou-se grande discussão nos tribunais acerca da natureza jurídica dos prazos longos dispostos na Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005), nomeadamente sobre o prazo de suspensão das ações e execuções e da prescrição das pretensões contra a recuperanda (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), chamado de stay period.
Antes disso, o interesse na discussão da natureza do prazo de suspensão era exclusivamente acadêmico, não trazendo qualquer reflexo para a prática forense. Contudo, é inegável que a partir daí instaurou-se a insegurança jurídica nos processos de recuperação judicial. Apenas para se ter um exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que conta com duas câmaras especializadas em direito empresarial, entendia de modo diverso o tema. Na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, prevalecia o entendimento de que o prazo tinha natureza processual e, por conseguinte, contava-se em dias úteis, enquanto na 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial dizia-se se tratar de prazo em dias corridos, por ser de natureza material. A controvérsia, como é sabido, se espalhou Brasil afora.
No julgamento do REsp 1.699.528, o STJ foi chamado a enfrentar a questão. O tribunal entendeu que o prazo do período de stay (180 dias), bem como para a apresentação do plano de recuperação judicial pela recuperanda (60 dias), embora processuais, devem ser contados em dias corridos.
Nas palavras do Min. Luis Felipe Salomão, “A contagem em dias úteis poderá colapsar o sistema da recuperação quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e, por outro lado, na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista que incorreria numa dualidade de tratamento”. Afirma, ainda, que a aplicação do CPC/15 no microssistema recuperacional “deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade à natureza e ao espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e princípios específicos da Lei de Recuperação e com vistas a atender o desígnio de sua norma-princípio disposta no artigo 47”, já que o “microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e unidade do sistema, engendrado para ser solucionado, em regra, em 180 dias depois do deferimento de seu processamento.”[1]
Não podemos concordar com a decisão do STJ. Apresentamos cinco razões para tanto:
1) Natureza processual dos prazos de stay: Para a definição deste ponto, é necessário assentar o conceito de prazo. Entendemos que o prazo é formado por dois elementos constituidores, quais sejam, os termos (inicial e final) e o lapso temporal. Os termos marcam o início e o final de determinada oportunidade. O lapso temporal, por sua vez, é a quantidade de tempo compreendida entre os dois pontos. O prazo é, por conseguinte, determinado lapso de tempo delimitado pelo termo inicial e termo final, para a prática ou abstenção de determinado ato. Aderimos, por conseguinte, ao conceito de prazo processual apresentado por Antonio Dall’Agnol: “Prazo é o lapso dentro do qual devem os figurantes do processo desenvolver determinada atividade ou absterem-se de agir. É sequência temporal que se situa entre um momento (termo a quo) e outro (termo ad quem)[2]”. Neste ponto, surge um problema. A definição analítica do que é prazo processual é uma questão que a doutrina ainda não enfrentou devidamente. É certo, todavia, que algumas características diferenciam os atos processuais dos atos materiais em geral. Os atos processuais possuem (i) unidade teleológica: são praticados por todos os sujeitos processuais, auxiliares e terceiros dentro do ambiente dialógico do processo, para a obtenção do pronunciamento jurisdicional; (ii) interdependência: em regra, os atos praticados no processo são analisados e interpretados a partir dos atos antecedentes e subsequentes, razão pela qual nenhum ato é considerado como isolado[3].
Especificamente sobre o prazo de stay (art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005), com o deferimento do processamento da recuperação judicial, temos a determinação ope legis da suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face da recuperanda, por 180 (cinco e oitenta) dias.
Ora, não é muito difícil perceber que existem dois objetos alvos da suspensão: (i) a prescrição dos créditos contra a recuperanda e; (ii) as ações e execuções em face da recuperanda.
A (i) prescrição, como sabemos, é instituto de direito material, que se refere à perda da pretensão para o exercício da ação material de exigência do crédito. Com efeito, o prazo de suspensão da prescrição deve ser contado em dias corridos, como ocorre para os atos materiais. No entanto, as (ii) ações e execuções em face da recuperanda são institutos de direito processual. A mens legis neste ponto determina a suspensão do procedimento dessas ações e, por conta disso, o ato suspensivo tem por objeto os próprios atos processuais, razão pela qual deve ser considerado como um ato processual de abstenção. O prazo para a suspensão das ações e execuções em face da recuperanda deve ser considerado como processual, portanto. Muito embora o julgado não tenha feito essa diferenciação que ora apresentamos, entendemos que o único ponto de concordância entre este texto e a decisão proferida seja a natureza processual do stay period, circunstância a causar mais inquietação em nossas próximas observações.
2) Forma de contagem dos prazos processuais nos processos de insolvência: Muito embora o STJ tenha considerado que os prazos de stay (arts. 6º e 52, III, da Lei nº 11.101/2005) e para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, da Lei nº 11.101/2005) devam ser contados em dias corridos, é necessário assentar que não existe qualquer previsão expressa acerca da contagem de prazos processuais na Lei nº 11.101/2005.
Com efeito, a melhor técnica determina que essa contagem deve seguir a regra prevista no CPC, levando em consideração sua aplicação subsidiária e supletiva do diploma processual à lei de recuperação judicial e falências (art. 189, da Lei nº 11.101/2005). É de rigor observar que o CPC representa o núcleo gravitacional das regras de “procedimento” e de “processo”, donde se inclui a disciplina sobre a contagem dos prazos. O próprio CPC disciplina em seu art. 15 a aplicação de suas disposições aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, cujo rol, obviamente, é meramente exemplificativo. Os processos de insolvência, por mais especiais que sejam, submetem-se, de igual modo, à disciplina do CPC naquilo que a lei especial for omissa. Deste modo, o “microssistema” da recuperação judicial e da falência, moldado para atender à complexidade das situações de crise ou inviabilidade operacional das empresas, ao contrário de afastar a disciplina do CPC, tem por necessidade o diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade, apartando as antinomias e colmatando as lacunas legislativas existentes.
Destarte, reitera-se que na ausência de regra expressa acerca da contagem de prazo na Lei nº 11.101/2005, deve-se aplicar o disposto no art. 219, do CPC, contando-se os prazos processuais em dias úteis.
O argumento da especialidade de um microssistema sempre é utilizado pelo julgador quando não se quer utilizar determinada regra[4]. Isso já se viu anteriormente no caso da contagem dos prazos processuais[5] ou da aplicabilidade do disposto no art. 489, § 1º, do CPC aos Juizados Especiais[6], quando, num esforço interpretativo invejável, tentou-se afastar a aplicabilidade do CPC. Trata-se, na verdade, de comportamento criativo do Poder Judiciário em corrigir a lei ruim, assunto do qual nos ocuparemos abaixo (infra 4 e 5).
3) “Racionalidade e unidade do sistema”?: O entendimento esposado pelo STJ assevera a necessidade de manutenção da racionalidade e unidade do (micros)sistema recuperacional e falimentar, razão pela qual o prazo de 180 dias contados em dias úteis vulneraria o encadeamento lógico da sucessão de atos processuais previstos em lei e solaparia a “celeridade e a efetividade” que se esperam com oportunidades breves e inadiáveis.
O primeiro problema que se coloca é que o pronunciamento mira pretensos problemas da “ciência sombria” (dismal science[7]), que é a economia, para impedir a aplicação de regra exata para o caso.
A decisão, ao invés de reconhecer os potenciais malefícios que o prazo dilatado em dias úteis poderia trazer para o sistema processual de insolvência, optou pelo caminho mais sofrível, o de abalar a unidade e racionalidade do sistema jurídico-processual.
Sob o ponto de vista da segurança jurídica, a decisão não poderia ser pior, pois vulnera a normatividade da regra disposta no art. 219 do CPC, a partir de enfoques econômicos e morais (não-normativos), trazendo um problema maior ainda a ser resolvido, qual seja: doravante, como se contam os prazos processuais em geral da recuperação judicial? Como se contam: o prazo de emenda do pedido de recuperação (art. 321, do CPC – 15 dias); o prazo para a apresentação de habilitações e insurgências ao administrador judicial (art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 – 15 dias); o prazo de impugnação da relação de credores (art. 8º, da Lei nº 11.101/2005 – 10 dias); o prazo de impugnação do plano pelos credores (art. 55, da Lei nº 11.101/2005 – 30 dias); o prazo para o recurso de agravo de instrumento contra a decisão de deferimento (art. 1.015, I, do CPC – diante de seu caráter cautelar) e da decisão de concessão (art. 1.015, II, do CPC – diante de sua natureza meritória) da recuperação judicial? Seriam esses prazos também contatos em dias corridos? Ou pelo simples fato de serem prazos “curtos”, sua contagem seria em dias úteis?
A decisão consequencialista fulmina a lógica e o sistema processual ao atribuir forma de contagem anormal aos prazos considerados longos, reconhecendo, contudo, a normatividade da regra do art. 219, do CPC, para outros prazos processuais tidos por “normais” ou “curtos”.
A norma do art. 219 do CPC é do tipo regra, que se aplica, na lição de Ronald Dworkin, segundo a lógica do tudo-ou-nada (all-or-nothing fashion). Confirmado o suporte fático que faz incidir a regra, então ela deve ser aplicada (é válida). No entanto, havendo contraste entre o suporte fático legal e a situação jurídica respectiva, a regra não se aplica[8]. Em outras palavras, não há prazo processual contado em dias corridos sem regra especial que o autorize. Todos os demais prazos processuais – na falta da regra especial – devem, pois, ser contados em dias úteis. Eis aqui a racionalidade, a unidade, a segurança e a integridade do sistema.
4) Desacerto do legislador: Um dos principais argumentos da decisão tomada pelo STJ é que a contagem em dias úteis para prazos largos não se coaduna com a sistemática recuperacional.
Não é difícil notar, portanto, que o STJ entende que o legislador errou neste particular. E ousamos dizer que do ponto de vista lógico os ministros estão com a razão. A alteração da forma de contagem de prazo processual em regra distinta da existente para a contagem dos prazos materiais representa um insuportável equívoco e traz discussões acadêmicas desnecessárias para o ambiente do foro.
Muito embora a mudança tenha sido amplamente festejada pelos advogados, nomeadamente pela OAB, deve-se notar que ela é prenhe de inúmeras incertezas e de consequências sequer cogitadas em razão do ritmo hiperacelerado do processo legislativo do CPC.
A contagem do prazo em dias úteis foi apreciada apenas sob a lente dos prazos que marcam as oportunidades procedimentais previstas na própria lei, não se atentando, por outro lado, às particularidades da legislação esparsa e especial. Não há dúvida de que sequer foi objeto de cogitação o procedimento dos processos recuperacionais, pois dentre os ilustres professores que assessoraram o processo legislativo não se encontrava qualquer especialista em processos de insolvência.
Tanto isso é verdade que o já falido procedimento de insolvência civil ficou relegado à disciplina dada pelo CPC/73 (art. 1.052, do CPC), enquanto vindouro e incerto regramento especial pelo processo legislativo.
Repise-se, podemos dizer de lege ferenda, que a disciplina do art. 219, do CPC representa um erro, um equívoco legislativo. Os prazos poderiam, sem grande problema, permanecer em contagem por dias corridos sofrendo apenas um aumento no respectivo lapso temporal. Deste modo, a contestação, ao invés de contar com os tradicionais 15 dias, poderia passar a ter 21 dias, por exemplo. Se assim fosse, não estaríamos sequer debatendo este assunto. Afirmamos: a lei é ruim. Porém é a lei vigente em um estado de direito (rule of law)!
Deste modo, diante da inexistência de inconstitucionalidade sobre a lei ruim, não resta outra alternativa que não o seu respeito. De lege lata não existe qualquer outra solução a não ser segui-la, passando-se a contar os prazos processuais, sejam eles quais forem, em dias úteis.
Podemos até defender, reforce-se, que de lege ferenda a contagem deva sofrer alteração, ou pelo menos o prazo de stay tenha que ser contado de modo diverso. No entanto, enquanto a lei como posta estiver vigente, deve ser cumprida.
O Poder Judiciário (=aplicação imparcial do direito) não ostenta qualquer legitimidade ou mesmo autorização para corrigir os “erros” dos legisladores, salvo os vícios de inconstitucionalidade. Isso se dá, justamente, pela vedação da criatividade legislativa pelo juiz (garantia arquifundamental da não-criatividade), pois deve o julgador submeter-se ao “reduto tedioso da legalidade” (garantia fundamental da legalidade), já que a “lei é o limite normativo de seu movimento”[9].
Muitas autoridades públicas bem intencionadas, não apenas os juízes, confiam suas decisões ao “bom-senso”, à sabedoria e a moralidade-comum em detrimento do direito. Porém, a lei existe, em boa parte, porque nem a boa-fé e tampouco a confiança nesses arquétipos virtuosos são indicadores de decisões corretas. A lei não opera apenas para impedir que autoridades egoístas ou mal intencionadas atuem em detrimento do bem comum. Indiscutivelmente, uma das funções do direito e da lei é impedir que as autoridades, mesmo as bem intencionadas, errem em suas decisões. Na lição de Schauer: “a constituição [e a lei, digo eu] existe em parte para impedir maus servidores de fazer coisas ruins, mas também, e mais importante, existe para impedir que bons servidores façam aquilo que eles pensam ser uma coisa boa, ou que possa ser bom no curto prazo, em detrimento do interesse público de longo prazo”[10].
O direito é um grilhão que mantém sob controle os impulsos humanos do julgador. Não é por outra razão que o juiz jamais se encontra livre para decidir um caso, ele sempre deve obediência ao direito (e ao caso in status assertionis pelas partes). Como nos faz refletir Alvarado Velloso[11], no Direito, a norma escrita, pela interpretação, nos proporciona a solução para os casos concretos; se não o faz diretamente, confere o caminho para a ela chegarmos.
A discordância do direito não serve de fundamento para que o juiz ou o tribunal o subverta e passe a julgar de acordo com seus critérios corretivos, sejam eles quais forem. Qualquer decisão legislativamente criativa do juiz viola a garantia fundamental da legalidade (no plano positivo) e a arquigarantia da não-criatividade (no plano pré-positivo), fulminando por inconstitucional o pronunciamento.
Já tivemos a oportunidade de nos manifestar no sentido de que o devido processo legal deve ser relido e densificado a partir das garantias constitucionais do processo e que essa releitura exige que o juiz compreenda “que o personagem Estado-Juiz está limitado (= Estado Liberal) a partir de balizas constitucionais e legais instransponíveis (under the rule of law), devendo julgar os conflitos a ele submetidos a partir do direito, evitando-se a discricionariedade judicial.”[12]
O legislativo (=criação do direito – “jurislação”[13]), por outro lado, funciona através de outra lógica: enquanto as partes de um processo esperam do juiz imparcialidade, aqueles que buscam os parlamentares sabem que eles atuam a partir de interesses puramente parciais de representação de seus grupos eleitorais[14]. E é exatamente essa autorização de defesa de interesses que legitima a criatividade legislativa. Assim, entre a lei “ruim” e a criatividade judicial “boa”, o juiz sempre deve preferir a lei. Esse é um dos pilares de sua legitimação republicana, a autocontenção judicial (judicial self-restraint).
A lei é um bastião de segurança jurídica, tão perseguida, mas tão maltratada entre nós. A segurança, metaforicamente, deve ser vista como um sólido. Algo difícil de dobrar e quebrar, que dê proteção e guarida para os direitos [subjetivos]. Os tribunais devem servir como uma armadura protetora a impedir a destruição da segurança. Contudo, quando o próprio tribunal se volta contra a lei e a lança ao cadinho para promover o “derretimento do sólido”, produz a subversão última do direito, tão comum entre nós nesta quadra da história (moderna ou pós-moderna). A liquefação da lei pelo tribunal é o prenúncio do fim da repartição republicana de poderes e a abertura das sendas para uma perversa juristocracia[15], tudo isso num ambiente de normatividade líquida[16], na qual a lei passa a ser o próprio tribunal e a parcialidade positiva dos “bons” a bússola de todas as decisões.
5) Voluntarismo judicial: De todo o exposto até o momento, chegamos à conclusão de que a decisão do STJ ora analisada comprometeu as bases ontológicas da atuação judicial (o que a jurisdição é?). O direito foi liquefeito para atingirmos uma interpretação digna de um Frankenstein jurídico, completamente estranho ao texto da lei. O desrespeito à regra de contagem de prazo processual é de flagrância palmar, como se pode constatar acima.
A decisão tomada no caso, como já referido alhures, caracteriza o perigoso comportamento do voluntarismo judicial. Trata-se de espécie do gênero ativismo judicial que, por excelência, realiza-se pela manifestação da discricionariedade judicial, promovendo a suspensão dos pré-compromissos democráticos (Constituição e leis) pelo julgador, substituindo-os por sua subjetividade[17]. O voluntarismo traz um plus ao ativismo judicial. Ele permite ao julgador a aniquilação das regras pelo simples fato delas serem ruins, de não servirem ao seu propósito, de não serem “justas” ou “adequadas” o bastante. Realiza-se um gerenciamento sanitário-legal, a partir da lente do julgador, desprezando a lei “imprestável”. Observamos, com clareza solar, que esta é a principal característica do julgado do REsp 1.699.528, o império da discricionariedade-voluntarista-pseudocorretiva.
O voluntarismo que estamos diante decorre do estereótipo do gerencialismo processual, caracterizado pelos poderes discricionários do juiz de flexibilização da lei (normatividade líquida) em nome do atingimento de um resultado “ótimo”. O problema é que quem controla a força (forte ou fraca) desse “ótimo” é o próprio julgador.
A busca de soluções práticas e objetivas é uma característica dos juristas que se dedicam ao direito empresarial. Trata-se de grande qualidade, pois não se afastam da realidade e se alinham à dinâmica do mundo corporativo-empresarial.
A dúvida e a instabilidade, como se sabe, são nitroglicerina nesse ambiente, pois a economia e o mercado são ariscos à surpresas. Por isso, os empresarialistas – nomeadamente os falencistas e os recuperacionistas – anseiam por decisões judicias que tendam a por fim a controvérsias interpretativas sobre questões jurídicas. Assim, se a decisão for boa, excelente. Se for ruim, paciência.
De qualquer modo, prefere-se a decisão ruim em relação à dúvida. Acostumaram-se com o jargão de que o STJ tem a última palavra sobre o direito infraconstitucional federal, razão pela qual as leis federais são aquilo que o STJ diz que elas são.
Com isso não podemos compactuar.
O STJ é o defensor, o guardião, o garantidor das leis federais em nosso País. É o Tribunal responsável por fazer cumprir o direito de modo íntegro e estável, partindo sempre do texto legislativo que marca a dimensão normativa do próprio direito.
Assumir que o direito infraconstitucional é aquilo que o STJ diz, para além de uma aproximação medonha com o realismo americano, representa a substituição da guarda da lei pela presentação[18] da lei. Assim, o STJ seria impassível de erros (“the King can do no wrong”), pois seria a própria lei.
É necessário dissociar a (i) lei do (ii) julgador. Os impulsos, a psique, as vontades, os sentimentos e os valores pertencentes ao (ii) julgador não podem pautar os limites semânticos e interpretativos da (i) lei. Admitir isso é o mesmo que autorizar decisões discricionárias por parte do tribunal. E “quando se decide discricionariamente, não se decide juridicamente”[19]. E toda decisão discricionária deve ser vista como uma decisão criativa e inconstitucional!
A ambiência democrática e republicana impõe aos julgadores em geral e aos Tribunais Superiores em especial a contenção necessária para a atuação imparcial na solução dos conflitos. Neste contexto, o STJ deve retornar à sua função precípua que é sentinela pretoriano das leis deste País. Qualquer atuação diversa é permitir puro autoritarismo/gerencialismo travestido de decisão judicial.
A separação entre lei e tribunal é condição de cognoscibilidade do próprio direito e de controle da atuação jurisdicional (accountability) pela doutrina e pelos próprios cidadãos. E “se não queremos que o Direito seja simplesmente o que os tribunais dizem que ele é, caberá a nós respondermos o que ele significa. Dizer não, nesse caso, exige também dizer sim. Não basta dizer o que não queremos — é preciso também que digamos o que efetivamente queremos”[20].
Para encerrar, fica o clamor aos falencistas e recuperacionistas para que não se seduzam pelo conforto e felicidade da pseudossegurança dada pelas decisões dos tribunais superiores. Nenhuma decisão que agrida a divisão republicana de funções através de ativismo judicial gerencialesco e autoritário deve ser objeto de contemplação e regozijo, pois com isso criamos o monstro que amanhã nos devora.
Notas e Referências
[1] Disponível em <https://goo.gl/FMDNDm>, acesso em 14.04.2018. Até o momento da publicação deste texto o inteiro teor do acórdão não havia sido disponibilizado.
[2] DALL’AGNOL, Antonio. Comentários ao código de processo civil, v. 2 – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 306-307
[3] GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, vol. I, 5ª ed., Rio de Janeiro : Forense, 2015, p. 266-268.
[4] Como bem denunciado por PEIXOTO, Marco Aurelio. BECKER, Rodrigo. Contagem de prazos na recuperação judicial, disponível em <https://goo.gl/BJ5VB4>, acesso em 02.05.2018.
[5] Sobre esse tema pende no STF a ADPF 483 promovida pelo Conselho Federal da OAB, que pretende a aplicação da contagem em dias úteis dos prazos processuais. A relatoria é do Min. Luiz Fux.
[6] Neste sentido os obscenos enunciados persuasivos do FONAJE (ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG)) e da ENFAM (47. O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais).
[7] CARLYLE, Thomas. Occasional Discorse on the Negro Question, in: Fraser’s Magazine for Town and Country, Vol. XL., p. 672. Disponível em <https://goo.gl/3cFD64>. Acesso em 01.05.2018.
[8] DWORKIN, Ronald. Talking rights seriously, Cambridge : Harvard University Press, 1977, p. 24.
[9] COSTA, Eduardo José da Fonseca. As garantias arquifundamentais contrajurisdicionais: não-criatividade e imparcialidade, in: Empório do Direito, disponível em <https://goo.gl/a1ZJdS>, acesso realizado em 02.05.2018.
[10] SCHAUER, Frederick. The force of Law, Cambridge : Harvard University Press, 2015, p. 91-92 (tradução livre).
[11] ALVARADO VELLOSO, Adolfo. El garantismo procesal, Disponível em <https://goo.gl/jvBZgB>, acesso em 06.05.18;
[12] CARVALHO FILHO, Antonio. Precisamos falar sobre o instrumentalismo processual. Disponível em <https://goo.gl/pA4NJ2>. Acesso em 06.05.2018.
[13] COSTA, Eduardo José da Fonseca. As garantias arquifundamentais contrajurisdicionais: não-criatividade e imparcialidade, in: Empório do Direito, disponível em <https://goo.gl/a1ZJdS>, acesso realizado em 02.05.2018.
[14] “Compare a legislature with a court. A court too is structured in a way that allows rival views to be represented: it is an adversarial institution. The difference lies in the distinction, which courts embody, between the parties and the decision-maker (the judge). The parties make their adversarial presentations. Each tries to show that the other is mistaken. The judge listens to these presentations, then he goes away and thinks about them, returning with a verdict that purports to represent an impartial response to the competing advice he has received. Now legislatures sometimes hold hearings too: the difference is that, however judicious its demeanour, a legislative committee never tries to conceal the fact that its members are as partisan as the individuals who come before them (often more so). Whereas the parties to a lawsuit are entitled to expect the judge to be impartial, the parties who come before a legislative committee are under no misapprehension, nor is there any pretence at all, about the partisan views and commitments of the committee members. And when either the committee or the whole legislative assembly makes its decisions, it will make them on an explicitly partisan basis – that is, explicitly on the basis of the members’ well-advertised opposed and divisive views about the issues under consideration. Multi-member judicial tribunals such as the US Supreme Court may perhaps come close to this, in the sense that it is often ‘well known’ in advance which way many of the justices will vote on a particularly controversial issue. But it is not part of the self-image of the court that this should be so; whereas it really is part of the self-image of the legislature.”
Tradução livre: “Compare um legislador com um tribunal. Um tribunal também é estruturado de forma a permitir a representação de visões rivais: é uma instituição adversária. A diferença está na distinção entre as partes e o decisor (o juiz). As partes fazem suas apresentações contraditórias. Cada um tenta mostrar que o outro está enganado. O juiz escuta essas apresentações, depois sai e pensa nelas, retornando com um veredicto que pretende representar uma resposta imparcial às postulações concorrentes que recebeu. Agora, os legisladores às vezes também realizam audiências: a diferença é que, por mais judiciosa que seja sua conduta, uma comissão legislativa nunca tenta ocultar o fato de que seus membros são tão partidários quanto os indivíduos que os precederam (geralmente mais). Considerando que as partes de um processo têm o direito de esperar que o juiz seja imparcial, as partes que comparecerem perante uma comissão legislativa não possuem qualquer dúvida, nem há qualquer pretensão, sobre as posições parciais e os compromissos dos membros da comissão. E quando a comissão ou toda o congresso tomar suas decisões, isso as tornará explicitamente parciais – isto é, explicitamente com base nas opiniões opostas e divididas, bem divulgadas dos membros sobre as questões em consideração. Tribunais judiciais de vários membros, como a Suprema Corte dos EUA, talvez cheguem perto disso, no sentido de que muitas vezes é ‘bem conhecido’ de que maneira muitos dos juízes votarão em um assunto particularmente controverso. Mas não é parte da auto-imagem do tribunal que isso seja assim; De outro lado, isso é parte da auto-imagem da legislatura.” WALDRON, Jeremy. Law and Disagreement, New York : Oxford University Press, p. 23-24. Edição do Kindle.
[15] ABBOUD, Georges. Submissão e juristocracia, in: Revista de Processo, vol. 258, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 519-527.
[16] A expressão deve-se à construção teórica de BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida, Rio de Janeiro : Zahar, 2001, p. 07-24.
[17] ABBOUD, Georges. Processo Constitucional Brasileiro, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 709.
[18] O conceito de presentação remonta à teoria orgânica que estabeleceu a vinculação da pessoa jurídica aos atos de seus órgãos deliberativos. Deste modo, o órgão não pode ser visto como um terceiro que ostente condições de representar a pessoa jurídica. Pelo contrário, o órgão é a própria pessoa jurídica e, por decorrência, a presenta em todos os atos. Assim, presentação é o ato da pessoa mesma. Neste ponto, estamos tomando de empréstimo essa acepção para afirmar que reconhecer o STJ como a corte destinada a dizer o que é direito federal é dar ao Tribunal o papel de substituir-se à lei, em outras palavras, a lei é o próprio STJ.
[19] ABBOUD, Georges. Processo Constitucional Brasileiro, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 742-745.
[20] MORBACH, Gilberto. O que é o Direito? Será aquilo que os tribunais dizem que é?, in: Revista Conjur. Disponível em <https://goo.gl/gCAYZP>. Acesso em 05.05.2018.
Imagem Ilustrativa do Post: IMG_2225 // Foto de: Aran Parillo // Sem alterações
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/aquabahn/2819972264
Licença de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode