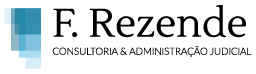“Recuperação judicial seria mais eficaz com o fim dos créditos extraconcursais”
Durante a tramitação do Projeto de Lei 4.376/1993, que virou a Lei de Falências (Lei 11.101/2005), houve um intenso lobby dos bancos junto aos parlamentares. Essa pressão foi bem-sucedida: créditos garantidos por alienação ou cessão fiduciária — como ocorre na grande maioria das operações financeiras — ficaram de fora dos processos de recuperação judicial. Só que essas garantias foram banalizadas, e os juros não caíram, como haviam prometido os banqueiros.
Por isso, os advogados Nelson e Guilherme Marcondes Machado, sócios do Marcondes Machado Advogados, defendem o fim dos créditos extraconcursais. Sem esse privilégio, as empresas em reabilitação teriam mais tempo para pagar suas dívidas. Logo, mais fôlego para retomarem a saúde financeira. Mas essa medida não basta para tornar as recuperações mais eficazes, apontam. Para eles, é preciso também alongar os prazos para parcelamento de tributos e suspender as execuções contra a companhia assim que ela faz o pedido na Justiça.
Nelson é pai de Guilherme. Fundado em 1920, o Marcondes Machado Advogados está na quarta geração da família de especialistas em falências e recuperações. Quem fundou a banca foi Alexandre Marcondes Machado Filho, avô de Nelson, que foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio no governo de Getúlio Vargas (fase Estado Novo). Nessa função, ele foi um dos pais da Consolidação das Leis do Trabalho.
Mas essa não foi a única contribuição legislativa de Alexandre Marcondes Machado. Ele também foi responsável por atualizar a legislação de falências e concordatas com o Decreto-Lei 7.661/1945, que vigorou até 2005. Essa expertise foi transmitida ao seu filho, Alexandre Marcondes Machado Neto, que, por sua vez, a repassou a Nelson. E este, a Guilherme, que atua no escritório desde os 15 anos. No início, era assistente de office boy. Com o passar dos anos, foi galgando cargos até virar sócio da firma.
Nelson e Guilherme Marcondes Machado avaliam que a Lei de Falências respondeu bem à crise atual e à de 2008. Segundo eles, a norma precisa apenas de ajustes pontuais. Um desses pontos seria a extensão de seus efeitos a entes federativos e empresas públicas. Dessa maneira, estados em sem caixa, como o Rio de Janeiro, teriam uma recuperação mais rápida e eficaz.
Em entrevista à ConJur concedida na sede do escritório, na avenida Paulista, em São Paulo, os Marcondes Machado também disseram ser favoráveis que o Estado ajude empresas em dificuldades e elogiaram varas especializadas em recuperações e falências.
Leia a entrevista:
ConJur — Como os senhores avaliam a primeira década da Lei de Falências, que fez 10 anos em 2015?
Guilherme Marcondes Machado — O início da lei foi tímido. Muita coisa mudou com ela, mas os profissionais ainda tinham na cabeça o procedimento da concordata. O plano de recuperação judicial, conforme a lei estipula, é absolutamente flexível, com a contrapartida de ser submetido à assembleia de credores. E nisso é possível propor prazos para os pagamentos. No começo, os planos eram elaborados com o mesmo prazo da concordata, que era de dois anos. Daí os envolvidos foram ficando mais corajosos e passaram a aumentar esse prazo para três, cinco, 10 anos. Os empresários ainda não sabiam ao certo como funcionava uma recuperação judicial.
Nelson Marcondes Machado — Dentro dessa história de o plano ter que englobar como vai pagar o passivo, e por quais vias, no começo ele se assemelhava a uma concordata.
Guilherme Marcondes Machado — Três anos após o início da vigência da lei, ocorreu a crise de 2008, que foi o primeiro grande teste da ferramenta da recuperação judicial. Com isso, as grandes empresas tiveram uma baita crise de liquidez. Isso fez com que crescesse muito a utilização da ferramenta do artigo 60 da Lei de Falências, que estabelece que a empresa pode fazer constar do plano que ela vai vender uma filial ou unidade produtiva isolada e, se isso for aprovado pelos credores, o juiz vai determinar que se faça um leilão. O arrematante dessa unidade produtiva isolada ou filial não vai ser sucessor de nenhuma dívida da empresa que está em recuperação judicial. Ele não compra com aquele preço maculado pelo passivo que está atrelado aquele ativo, ele compra o imóvel livre e desembaraçado.
Nelson Marcondes Machado — O risco de se tornar sucessor de dívidas é zero.
Guilherme Marcondes Machado — Então, a empresa em recuperação consegue vender aquele ativo por um preço muito maior, preço de mercado, e o ingresso desses recursos vai servir para pagar os credores. Como as empresas estavam com o caixa prejudicado, o uso da venda de ativos como método de ingresso de recursos passou a ser muito mais utilizado. Agora estamos em outra crise econômica, e a lei está sendo novamente testada. Mas ela precisa de alguns ajustes pontuais para tornar o processo de recuperação mais eficiente. Embora a lei tenha entrado em vigor em 2005, ela é fruto de um projeto apresentado em 1993. E o panorama empresarial muda com uma velocidade incrível.
Nelson Marcondes Machado — No projeto original, inclusive, o procedimento ainda era chamado de concordata, não recuperação judicial. Segundo essa proposta, o Estado estaria sujeito aos efeitos da recuperação. Mas, nos 12 anos que o projeto de lei ficou tramitando em Brasília, ele sofreu lobby de todo mundo: do governo, da comunidade bancária, do empresariado, dos sindicatos, dos advogados — todo mundo queria puxar a brasa para a sua sardinha. Por exemplo, os bancos conseguiram introduzir na lei diversas exceções à recuperação e à falência, como as disposições de que bens alienados fiduciariamente ou com arrendamento mercantil não se submetem à recuperação. Essa regra, por exemplo, foi incluída na lei sob o argumento, que posteriormente se mostrou falso, de que se eles tivessem maior segurança do cumprimento, eles poderiam abaixar os juros. Hoje, os bancos procuram fazer todas as operações com alguma forma de garantia que exclua o crédito da recuperação judicial. Veja o desconto de duplicata, por exemplo. Antigamente, qualquer empresário fazia isso. Ele vendia o seu produto, fazia sua duplicata, ia ao banco, este adiantava o dinheiro para ele mediante o pagamento de um certo percentual do valor. Isso era o desconto de duplicata. O processo continua exatamente igual, só que hoje ele se chama cessão fiduciária de títulos de crédito. É a mesma operação, mas mudou de nome só para introduzir a expressão “fiduciária”, de forma a caracterizar aquela exceção que foi colocada na lei. Na prática, grande parte do passivo bancário não se sujeita aos efeitos da recuperação, porque todos os créditos têm garantia fiduciária.
Guilherme Marcondes Machado — E os juros não caíram. Na recuperação judicial, os credores são divididos em quatro classes. A primeira classe é dos credores trabalhistas, a segunda, dos credores com garantia real, a terceira, dos credores quirografários, que é a grande massa de credores, e a quarta, que foi criada recentemente, é das microempresas e empresas de pequeno porte. Os bancos deveriam se enquadrar na segunda classe. Antes, para conceder um empréstimo, eles exigiam a hipoteca de um imóvel ou o penhor de um bem móvel. Mas, para fugir da sujeição a um plano de recuperação judicial, os bancos não têm mais aceitado esses tipos de garantia. Agora, só aceitam garantias fiduciárias. É muito comum vermos passivos de empresas que não têm credores da segunda classe. Mas o grande problema é que o banco ganha, mas não leva. Se ele aliena fiduciariamente uma máquina de sua linha de produção como garantia de uma operação financeira, o banco em tese estaria tranquilo de que não se sujeitaria à recuperação para obter esse dinheiro de volta. Contudo, a Lei de Falências veda a retirada de bens essenciais da empresa durante a recuperação. Então, o banco não se sujeita à recuperação judicial, mas também não consegue tirar aquele bem da empresa. Está ocorrendo um movimento no mesmo sentido no que diz respeito à cessão fiduciária de títulos de crédito, conhecida como “trava bancária”. Alguns tribunais estão começando a liberar pelo menos uma parte do valor. Por quê? A empresa requeria a recuperação, mas não recebia os créditos que tinha direito, pois eles ficavam retidos no banco. Só que isso acaba estrangulando o oxigênio da empresa, que é seu faturamento. Daí acaba virando uma bola de neve, e a empresa não tem forças para se reestruturar. Um dos pontos de sugestão de mudança da lei é justamente para sujeitar o crédito fiduciário à recuperação judicial, de modo a não estrangular mais a empresa, e também porque ele não garante nenhuma segurança para o banco.
ConJur — Segundo essa proposta, o crédito fiduciário entraria na segunda classe de credores?
Guilherme Marcondes Machado — As garantias reais são só hipoteca, penhor e anticrese. Então, o crédito fiduciário entraria na classe três. Também há um movimento para criar uma classe só para bancos, não importando o tipo do crédito. Na terceira classe, são agrupados credores com interesses totalmente divergentes. Vale lembrar que, no plano de recuperação judicial, as propostas são feitas por classe. Não é possível fazer proposta por credor, muito embora hoje em dia também haja uma flexibilização no sentido de se poder formar subclasses de credores com interesses homogêneos. Mas só analisando a letra fria da lei, credores totalmente distintos, com perfis totalmente distintos, acabam sendo colocados no mesmo caldeirão. O banco que fatura bilhões por trimestre fica na mesma classe de um cara que fornece cafezinho, e ambos estão sujeitos às mesmas condições.
Nelson Marcondes Machado — É muito comum um banco dominar completamente a votação do plano, por conta do porte do seu crédito. Então há um entendimento jurisprudencial no sentido em que não se pode colher o voto dele. Isso porque seria um abuso do direito de voto deixar quase todas as decisões na mão de um único credor. A recuperação judicial é uma solução de mercado. É o que a maioria dos credores decide em relação àquele devedor. Agora, não se pode deixar um único credor decidir o futuro da empresa sozinho, às vezes contra a vontade da enorme maioria dos credores, que querem uma outra solução.
ConJur — Como a Lei de Falências está se saindo nessa atual crise econômica?
Guilherme Marcondes Machado — Ela está sendo muito testada. Basicamente, existem dois tipos de recuperação judicial: as de empresas gigantescas e as de empresas pequenas e médias, que são muito mais frequentes. Para as grandes empresas, a lei está sendo muito boa, muito embora ainda tenha alguns percalços como, por exemplo, o desincentivo a algum credor emprestar uma grande quantidade de dinheiro. O problema é que o empresário, muitas vezes, entra em uma recuperação quando já é tarde demais. A recuperação judicial é muito boa para empresa que ainda é viável. Quando ela passa desse ponto, vira um instrumento para postergar a falência. Isso porque a empresa já não goza mais de credibilidade, os credores já estão estressados. Aí a recuperação acaba não atingindo seu objetivo inicial.
ConJur — O Superior Tribunal de Justiça decidiu há pouco que os honorários advocatícios não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Como os senhores avaliam essa decisão?
Guilherme Marcondes Machado — A lei diz que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, com aquelas exceções que eu já comentei. Havia duas opções com relação a advogados. Se a empresa assinasse o contrato de prestação de serviços advocatícios e posteriormente requeresse a recuperação judicial, esse crédito, pela letra da lei, estaria sujeito ao processo. Mas se a empresa requeresse recuperação judicial e assinasse o contrato de honorários em momento posterior ao pedido, para fugir desse marco temporal da sujeição do crédito, acabaria deixando o advogado desprotegido. Na verdade, as duas situações deixavam o advogado desprotegido, porque ou ele se sujeitava ao plano e ia ter que esperar sabe-se lá quanto tempo para receber o pagamento ou ele iniciava seu trabalho sem ter garantia nenhuma de ver seus honorários. Hoje em dia, há a visão de que honorários advocatícios não são da terceira classe, e sim da primeira, porque os honorários são o salário do advogado e têm natureza alimentar. Mas o STJ firmou um entendimento além disso: a corte considerou extraconcursal o crédito do advogado. Ou seja: o advogado pula na frente de trabalhadores, Fisco, credores com garantia real e outros. Isso pelo fato de o escritório de advocacia ter ajudado a empresa, ter acreditado nela nesse processo de reestruturação. Essa decisão acabou sendo um alívio para a classe, porque agora temos certa garantia de que o profissional vai ser remunerado no caso de uma decretação de falência.
ConJur — Que outras alterações poderiam ser feitas para melhorar a Lei de Falências?
Guilherme Marcondes Machado — Como funciona uma recuperação judicial? A empresa entra com uma petição inicial no fórum, apresenta uma série de documentos exigidos por lei, e o juiz vai analisar se aquela papelada está em ordem. Se não pedir outros documentos, o juiz vai deferir o processamento e autorizar a empresa a entrar em recuperação judicial. Quando isso ocorre, o juiz toma uma série de medidas, como determinar a apresentação do plano em 60 dias e nomear o administrador judicial. Uma das medidas que o juiz toma é suspender todas as ações e execuções contra a empresa por 180 dias, de modo que ela tenha fôlego e calma para poder elaborar um plano de recuperação e negociá-lo junto a seus credores. Só que essa suspensão acontece somente no deferimento do pedido. Mas o pedido, por si só, já anuncia ao mercado que a empresa está em recuperação judicial. Outra coisa: o pedido de recuperação é gatilho para acionar cláusulas de vencimento antecipado. Porém, a empresa ainda não tem a proteção da recuperação judicial, o que só vai acontecer quando o juiz autorizá-la a realmente iniciar o processo. E mais: os conflitos de competência aumentam muito esse lapso de tempo. O artigo 3º da lei diz que o juiz competente para deferir o processamento da recuperação judicial é aquele do principal estabelecimento da empresa. Só que, às vezes, a empresa entra com a recuperação judicial em outro lugar. Daí o juiz desse local afirma ser incompetente para conduzir esse caso, mas outro magistrado diz que é aquele julgador, sim, que deve conduzir a recuperação. Isso suscita um conflito negativo de competência. Houve esse problema no caso do Hopi Hari. Na verdade, isso é bem comum. Até mesmo porque o conceito de principal estabelecimento é muito amplo. Mas, até resolver quem é o juiz que deve conduzir o caso, a questão sobe para outra instância, a empresa já anunciou para o mercado que está em recuperação e que pediu abertura do processo, as cláusulas contratuais que têm como gatilho a recuperação judicial já foram acionadas pelos respectivos credores, porém a empresa ainda não tem a proteção efetiva da lei, o início do stay period, como é chamado na lei dos EUA. Lá, todas as execuções são automaticamente suspensas assim que a empresa protocola o pedido de recuperação. Essa é uma regra que deveria ser implementada no Brasil. Também seria necessário positivo acabar com os créditos extraconcursais.
Nelson Marcondes Machado — Eu também acho que todos os credores deveriam se sujeitar à recuperação.
Guilherme Marcondes Machado — Todo mundo tem que estar dentro, senão não se permite uma efetiva recuperação da empresa. Temos clientes que chegam aqui no escritório com o passivo de R$ 400 milhões, sendo que R$ 350 milhões estão garantidos por alienação fiduciária. Então, a empresa acaba pedindo recuperação judicial para resolver somente uma fração daquele passivo. Às vezes, nós chegamos até a não recomendar uma recuperação judicial por conta disso. Outra questão que é essencial é a criação de parcelamentos tributários efetivos. Há um parcelamento tributário de débitos federais para empresas em recuperação judicial que foi criado em 2014. Este parcelamento pode ser feito em até 84 parcelas, ou sete anos. Hoje uma empresa que não está em recuperação judicial consegue tocar a campainha do Fisco e fazer um parcelamento originário em 60 meses. Ou seja, o parcelamento especial para empresas em recuperação não é muito melhor do que o normal
Nelson Marcondes Machado — E tem que ser um parcelamento especial, porque a empresa em recuperação judicial está em uma situação especialíssima.
Guilherme Marcondes Machado — E também para assegurar que o Estado receba esses valores. A primeira coisa que o empresário para de pagar quando o cobertor está curto é o Fisco. Então o passivo vai acumulando, acumulando… Para dar uma solução para isso sem sufocar a empresa, é preciso permitir que ela possa alongar o parcelamento, que o valor das parcelas seja menor. Afinal, a empresa tem outros credores, não só o Fisco. Em 2014 e 2015, foram apresentadas duas medidas provisórias que instituíam parcelamentos de 180 meses, mas isso acabou sendo vetado pela Dilma. Agora estão fazendo um outro projeto de lei prevendo um parcelamento de 180 meses.
ConJur — Fora a Lei de Falências, que outras normas poderiam ser alteradas para tornar a recuperação judicial mais eficiente?
Guilherme Marcondes Machado — É preciso fazer alterações não só na Lei 11.101/2005, mas também em legislações que estão em volta da recuperação judicial, que não tratam diretamente sobre o tema, mas que a influenciam diretamente. Como, por exemplo, a Lei de Licitações (Lei 8.666/1993). Também é necessário mexer em questões regulatórias. Por exemplo, na Resolução 2.682 do Banco Central, que determina que as instituições financeiras classifiquem as operações em determinado nível de risco, que vai do AA até o H. Então, a empresa que tem classificação AA é a que está demonstrando uma ótima saúde financeira. Na medida em que a empresa vai dando sinais de fraqueza econômico-financeira, ela vai caindo nessa escala, até chegar no H. E o que é que acontece à medida em que ela vai caindo? A instituição financeira tem que provisionar uma fração daquela operação que está em aberto e junto ao Banco Central, justamente para evitar um risco sistêmico de inadimplemento na comunidade bancária. Então, quando há 180 dias de atraso ou mais — que é o caso de uma recuperação judicial, porque a exigibilidade dos créditos vai ser suspensa por 180 dias —, o banco é obrigado a jogar a empresa para o nível H. E quando a empresa é H, o banco tem que provisionar no sistema “um para um”. Ou seja, se o banco emprestou R$ 1 milhão e a empresa não o pagou, além de ele ficar sem aquele R$ 1 milhão, ele tem que tirar outro R$ 1 milhão do bolso e colocar no Banco Central. Isso é para garantir o sistema bancário, para evitar uma quebra generalizada, porque os bancos também dependem de empréstimos interbancários. Por conta dessa resolução de 1993, quem for emprestar dinheiro para uma empresa em recuperação, por mais que ela esteja bem encaminhada, deverá classificar a operação como nível H. Isso aumenta o custo do dinheiro, e acaba tirando o incentivo dos bancos emprestarem para empresas em reabilitação. Com isso, a companhia acaba tendo que se socorrer de fundos, de factorings e outras entidades que não se sujeitam a essa resolução. Então essa é uma mudança pontual, que não é nem lei, é resolução do Banco Central, que permite atrair créditos para empresas em recuperação judicial. Na França, por exemplo, o próprio governo financia empresas em recuperação judicial. Ele tem esse viés de auxiliar a reestruturação da empresa. Na legislação norte-americana, se alguém faz um empréstimo a uma empresa que está em um processo de recuperação judicial, o juiz pode autorizar a preferência absoluta daquele crédito sobre os demais, que é o famoso DIP (debtor-in-possession) financing. Isso permite a injeção de capital na empresa, para que ela mantenha suas operações essenciais. Não há um DIP financing no Brasil. Embora esse crédito tenha uma boa prevalência sobre os demais, ainda concorre com outros. Então, essa é outra mudança essencial para estimular a concessão de crédito para a empresa em recuperação judicial.
ConJur — Na crise econômica de 2008, houve um debate, especialmente nos EUA, se o Estado deveria ajudar as empresas — principalmente as grandes — que corriam risco de falência. De um lado, estavam os que argumentavam que era preciso resgatar tais companhias para evitar risco sistêmico na economia. Do outro, estavam os que eram a favor de deixar elas falirem, uma vez que tinham sido irresponsáveis na condução dos negócios. Na opinião dos senhores, o Estado deve ou não ajudar empresas a se recuperar?
Nelson Marcondes Machado — Eu acho que pode intervir, não é que deve intervir. Tomemos como exemplo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objeto social desse banco é fomentar a economia como um todo. Então, um dos papéis que o BNDES deveria assumir é o de ajudar a empresa em dificuldade, porque isso é muito importante no processo de recuperação judicial. Existe uma visão macroeconômica por trás da recuperação judicial. A legislação não foi feita apenas para resolver o problema da empresa que está passando por dificuldades, mas também para manter a atividade econômica dela, que gera benefícios macroeconômicos como empregos, arrecadação fiscal, criação de riquezas. Esse é o objetivo da recuperação judicial.
ConJur — Alguns especialistas afirmam que a Lei de Falências é muito rígida e dificulta a volta dos empresários ao mercado ao estabelecer prazo de cinco anos de reabilitação. Esse prazo é excessivo?
Guilherme Marcondes Machado — Sim. Pegue o presidente dos EUA, Donald Trump. Ele já faliu cinco vezes. E se reergueu cinco vezes. Por quê? Porque nos EUA, com a decretação de falência, a empresa entrega todos os seus bens para os credores e acabou. Vida nova, segunda chance.
Nelson Marcondes Machado — Aqui no escritório, nós temos um processo de falência de 1983.
Guilherme Marcondes Machado — Temos que separar os conceitos de empresa e empresário. Se a empresa faliu, é preciso entregar todos os bens dela para os credores e liberar o empresário para ele fazer outra coisa. Hoje em dia esse tempo de reabilitação é demorado por dois motivos. Primeiro porque ele é muito comprido. Não dá para apurar toda a responsabilidade da empresa e esperar esse prazo de cinco anos. O segundo ponto é a demora na tramitação da falência. Demora muito para arrecadar todos os ativos da empresa, vendê-los em leilão. Se os bens não forem vendidos logo, eles acabam perdendo valor. Assim, a empresa arrecada pouco quando consegue vendê-los, e não obtém dinheiro suficiente para pagar os credores. Tudo isso fica atrelado ao empresário. Ele fica com aquele estigma de falido por muito tempo, e não tem a possibilidade da segunda chance, muito embora o processo de falência tenha sido, pelo menos na teoria, abreviado com a Lei 11.101/2005. O instituto da falência ainda não se mostrou uma alternativa eficaz no Brasil. Ela é tão demorada, tão ineficaz e tão engessada que acaba sendo um mecanismo de pressão para o credor aprovar um plano, quando na verdade a falência era para ser uma saída. Se a falência fosse um processo curto, rápido e eficiente, para arrecadar os bens, vendê-los e pagar os credores, os credores não teriam medo de rejeitar um plano e ter a falência decretada. Mas, como os credores sabem que a chance de receber num cenário de falência é quase nula, eles acabam optando por planos que não param em pé. Sem um processo célere e eficaz, a economia como um todo acaba sendo prejudicada.
ConJur — O que o senhor pensa das varas especializadas em recuperação judicial?
Guilherme Marcondes Machado — Elas são extremamente necessárias. Pense em um juiz do interior que comande a recuperação de uma usina sucroalcooleira. Esse juiz tem que atuar em praticamente todas as frentes do Direito. Ele julga briga de família, homicídio, pensão alimentícia, ação de cobrança. Mas, segundo a máxima, “quem faz tudo não faz nada bem”. Então as decisões desse juiz não têm o mesmo nível técnico das de um que só lida com recuperação judicial e falência. E a falta de conhecimento específico também faz com que a tramitação dos processos seja mais lenta. Com isso, os processos acabam durando muito mais do que a lei prevê. Com juízes especializados, que só tratam desse assunto, as decisões são uniformizadas, certos entendimentos são consolidados. Isso é bom até para desafogar a segunda instância, pois decisões de especialistas não precisam ser atacadas via recursos com tanta frequência.
ConJur — Os senhores pensam que bancos, empresas públicas e sociedades de economia mista deveriam se submeter à Lei de Falências, e, com isso, poderem entrar em recuperação judicial ou falência?
Guilherme Marcondes Machado — Sim. E vou além: penso que entes federativos também deveriam se sujeitar à lei. Isso ajudaria estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que passam por graves crises econômicas. Nos EUA, há essa possibilidade. A cidade de Detroit, por exemplo, entrou em recuperação judicial. O procedimento aplicável a entes estatais nos EUA é um pouco diferenciado, afinal, são interesses públicos, não privados, que estão em jogo. E isso envolve diversos serviços dos quais as pessoas dependem, como saúde, educação, segurança. Então, é preciso ter um cuidado maior para não banalizar o processo. Mas, sem dúvida, deveria ser permitido que estados e municípios entrassem em recuperação judicial para sanar suas contas, poderem negociar os seus débitos junto às outras esferas, aos seus fornecedores, seus prestadores de serviço. Assim, esses entes conseguiriam fazer a dívida caber na capacidade de pagamento, e não engessariam a máquina pública. Isso também reduziria greves de servidores públicos, que, embora muitas vezes sejam ilegais, continuam ocorrendo.
*Texto alterado às 11h14 do dia 12/03/2017 para correção de informações.
https://www.conjur.com.br/2017-mar-12/entrevista-nelson-guilherme-marcondes-machado-advogados?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook