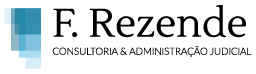A Lei de Falências em Tempos de Crise
A Lei de Falências acaba de completar 10 anos. Renomados juristas têm se reunido em eventos organizados país afora para celebrar este marco, criando um ambiente propício para uma detida avaliação dos resultados até aqui obtidos com a aplicação desta lei, que se apresentou com aspectos inovadores visando a adequação do direito falimentar à realidade empresarial do século XXI.
É também nestes tempos de crise econômica que o empresário, ciente dos modernos instrumentos de proteção que a lei lhe propicia, procura informações a respeito da eficácia de suas regras, sendo, sob esse aspecto, alarmantes os resultados de pesquisas divulgadas pela imprensa, informando ser ínfimo o percentual de empresas que pedem recuperação judicial e saem do processo efetivamente recuperadas.
A despeito dos questionáveis critérios adotados em tais pesquisas, merece atenção um argumento que invariavelmente é utilizado para justificá-las, segundo o qual o empresário brasileiro só recorre à recuperação quando não vê outra saída. De fato, isso já ocorria no antigo regime da concordata e continua sendo comum na vigência do atual sistema legal.
Talvez seja o momento ideal para a sociedade refletir e discutir a experiência vivida nestes 10 anos de aplicação da lei
Por razões culturais e falta de informação adequada por parte de credores e do próprio devedor, no Brasil quem pede recuperação judicial ainda se considera e é visto por boa parte do mercado como alguém já falido, apesar das significativas diferenças entre um estado e outro.
E é assim que se forma o círculo vicioso. O empresário em transitória, e muitas das vezes superável, crise financeira protela ao máximo o ajuizamento da medida judicial apta a garantir a sua recuperação e passa a tomar decisões gerenciais que posteriormente se mostram equivocadas, até finalmente atingir o ponto no qual constata que a manutenção das atividades está ficando insustentável e decide bater às portas do Judiciário, em busca de uma recuperação que, a essa altura, pode ter se tornado improvável.
Contribui muito para esse estado de coisas o fato de grande parte dos empresários, quando necessitam buscar financiamento para capital de giro, só conseguirem contratar empréstimos junto às instituições financeiras mediante a oferta de garantia representada por cessão fiduciária de títulos de crédito, tais como duplicatas, recebíveis futuros e direitos correlatos. Ou seja, na tentativa de resolver um problema atual de fluxo de caixa, cedem ao banco os seus recebíveis futuros, abrindo caminho para a deterioração da saúde financeira da empresa.
Por força de previsão expressa da Lei de Falências, o crédito que possui garantia sobre recebíveis futuros, contratada sob a forma de cessão fiduciária registrada em cartório de títulos e documentos, está excluído do processo de recuperação judicial e pode ser executado pelo banco credor. Assim optou o legislador sob a justificativa de que, conferindo maior segurança e eficácia aos negócios em que o devedor transfere ao credor a propriedade de um bem ou direito, as taxas de juros tenderiam a baixar, facilitando assim a obtenção de crédito junto às instituições financeiras.
Ocorre que a Lei de Falências entrou em vigor e não se viu o tão esperado movimento de queda nos juros, iniciando-se então intensa discussão nos tribunais a respeito do cabimento da exclusão de tais créditos da recuperação judicial, pois a medida impede que a receita comprometida sob a forma de garantia seja utilizada no giro do negócio e, se não inviabiliza, certamente dificulta o soerguimento do empresário.
Na prática, o que se vê, a partir do ajuizamento do pedido de recuperação, são vigorosas negociações entre bancos e devedores para definir o destino dessas receitas transferidas antecipadamente. Mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por suas duas turmas da seção de direito privado, decidiu que o crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete ao processo de recuperação e pode ser livremente exigido do devedor.
O país atravessa uma grave crise econômica cujos efeitos, segundo especialistas, não se dissiparão em curto prazo. Talvez este seja o momento ideal para que a sociedade reflita e discuta a experiência vivida nestes dez anos de aplicação da Lei de Falências, a fim de que, no dizer do então senador Eduardo Suplicy, em requerimento de audiência pública apresentado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal na época em que a norma completava cinco anos de vigência, “seja possível identificar eventuais fragilidades e dificuldades na aplicação dos dispositivos, estabelecer perspectivas para o futuro e discutir propostas para seu aperfeiçoamento”.
A Lei de Falências deve ser efetiva e atingir a finalidade para a qual foi criada. A recuperação judicial, de acordo com a definição do próprio texto legal, tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.
Para utilizar uma expressão que está na moda, é preciso que o Poder Legislativo esteja atento para o que se passa na sociedade e, agindo para o aperfeiçoamento de uma lei que resguarda tão importantes valores, contribua para a eliminação do preconceito sofrido pelo empresário que busca a proteção legal, garantindo assim a efetividade do processo de recuperação judicial.
José Alexandre Corrêa Meyer é advogado especializado em direito empresarial
Este artigo reflete as opiniões do autor, e não do jornal Valor Econômico. O jornal não se responsabiliza e nem pode ser responsabilizado pelas informações acima ou por prejuízos de qualquer natureza em decorrência do uso dessas informações
A Lei de Falências em tempos de crise https://www.valor.com.br/imprimir/noticia/4274972/legislacao/4274972/…
2